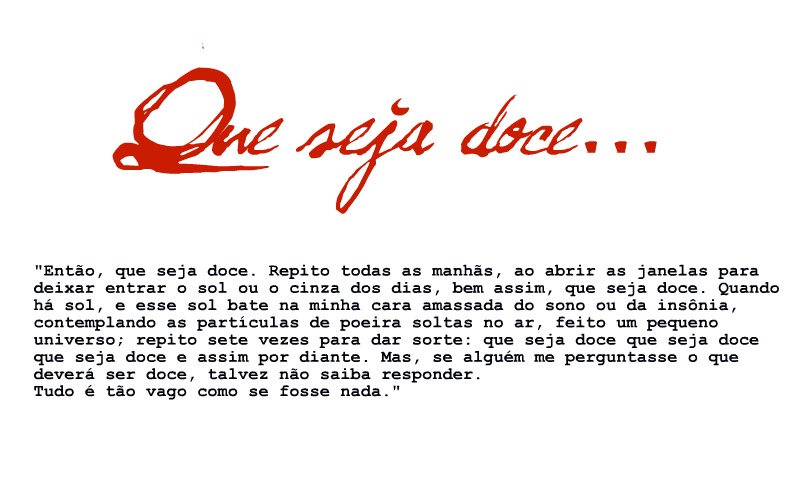I
Foi numa dessas manhãs sem sol que percebi o quanto já estava dentro do que não suspeitava. E a tal ponto que tive a certeza súbita que não conseguiria mais sair. Não sabia até que ponto isso seria bom ou mau — mas de qualquer forma não conseguia definir o que se fez quando comecei a perceber as lembranças espatifadas pelo quarto. Não que houvesse fotografias ou qualquer coisa de muito concreto — certamente havia o concreto em algumas roupas, uma escova de dentes, alguns discos, um livro: as miudezas se amontoavam pelos cantos. Mas o que marcava e pesava mais era o intangível.
Lembro que naquela manhã abri os olhos de repente para um teto claro e minha mão tocou um espaço vazio a meu lado sobre a cama, e não encontrando procurou um cigarro no maço sobre a mesa e virou o despertador de frente para a parede e depois buscou um fósforo e uma chama e fumei fumei fumei: os olhos fixos naquele teto claro. Chovia e os jornais alardeavam enchentes. Os carros eram carregados pelas águas, os ônibus caíam das pontes e nas praias o mar explodia alto respingando pessoas amedrontadas. A minha mão direita conduzia espaçadamente um cigarro até minha boca: minha boca sugava uma fumaça áspera para dentro dos pulmões escurecidos: meus pulmões escurecidos lançavam pela boca e pelas narinas um fio de fumaça em direção ao teto claro onde meus olhos permaneciam fixos. E minha mão esquerda tocava uma ausência sobre a cama.
Tudo isso me perturbava porque eu pensara até então que, de certa forma, toda minha evolução conduzira lentamente a uma espécie de não-precisar-de-ninguém. Até então aceitara todas as ausências e dizia muitas vezes para os outros que me sentia um pouco como um álbum de retratos. Carregava centenas de fotografias amarelecidas em páginas que folheava detidamente durante a insônia e dentro dos ônibus olhando pelas janelas e nos elevadores de edifícios altos e em todos os lugares onde de repente ficava sozinho comigo mesmo. Virava as páginas lentamente, há muito tempo antes, e não me surpreendia nem me atemorizava pensar que muito tempo depois estaria da mesma forma de mãos dadas com um outro eu amortecido — da mesma forma — revendo antigas fotografias. Mas o que me doía, agora, era um passado próximo.
Não conseguia compreender como conseguira penetrar naquilo sem ter consciência e sem o menor policiamento: eu, que confiava nos meus processos, e que dizia sempre saber de tudo quanto fazia ou dizia. A vida era lenta e eu podia comandá-la. Essa crença fácil tinha me alimentado até o momento em que, deitado ali, no meio da manhã sem sol, olhos fixos no teto claro, suportava um cigarro na mão direita e uma ausência na mão esquerda. Seria sem sentido chorar, então chorei enquanto a chuva caía porque estava tão sozinho que o melhor a ser feito era qualquer coisa sem sentido. Durante algum tempo fiz coisas antigas como chorar e sentir saudade da maneira mais humana possível: fiz coisas antigas e humanas como se elas me solucionassem. Não solucionaram. Então fui penetrando de leve numa região esverdeada em direção a qualquer coisa como uma lembrança depois da qual não haveria depois. Era talvez uma coisa tão antiga e tão humana quanto qualquer outra, mas não tentei defini-la. Deixei que o verde se espalhasse e os olhos quase fechados e os ouvidos separassem do som dos pingos da chuva batendo sobre os telhados de zinco uma voz que crescia numa história contada devagar como se eu ainda fosse menino e ainda houvesse tias solteironas pelos corredores contando histórias em dias de chuva e sonhos fritos em açúcar e canela e manteiga.
II
Ele tinha medo porque não sabia onde se encontrava. Ainda não havíamos falado: eu estava sentado no meio do circo e, deitado sobre a plataforma, envolto em renda vermelha, ele me dizia devagar que estava perdido. Para tranqüilizá-lo, ou para tranqüilizar a mim mesmo, fui dizendo no mesmo ritmo que era talvez um templo dos tempos futuros, onde cada um faria o que bem entendesse.
Ave templo dos escolhidos — ele disse sorrindo. E eu sorri também, um sorriso idiota, como pedindo desculpas por não ter ousado dar o nome que ele dava. Ele sorriu novamente, desta vez como se compreendesse e avisasse que aqueles eram os últimos instantes antes da perdição. Tive medo de compreender, e acrescentei rapidamente que talvez estivéssemos sendo raptados por um disco voador: ele ficou sério. Sem sentir eu penetrava no mesmo e doce pânico. Procurei ver seu corpo, coberto por renda vermelha, naquele momento exato o importante era distinguir seu sexo, a idade, a cor dos cabelos, dos olhos, a conformação da boca, a consistência da pele, os ossos da bacia — naquele momento tentei percebê-lo concreto e absoluto, e se tivesse conseguido sei que a salvação teria começado no mesmo momento em que a perdição se armava, sem se interligarem num único caminho — como mais tarde aconteceu. Mas um grupo de pessoas colocou-se entre nós e eu o perdi de vista. Só depois de muito tempo é que se afastaram e consegui olhar para ele. Mas nada vi. A renda vermelha libertava apenas dois pés assexuados, anônimos, incógnitos, sozinhos. Esperei.
E não mais ouvi seu medo porque depois as luzes apagaram, nasceu uma claridade roxa dos cantos e, enquanto movimentos estremeciam os corpos deitados ao lado dele, suspeitei que o ritual começara: a missa ou a decolagem em direção a Alfa Centauro. A missa celebrando a loucura divina: o sumo sacerdote suspendendo um lindo sonho dourado em suas mãos pálidas. Alfa Centauro — a meta. Apertei as duas mãos contra a poltrona e tentei voltar às folhas amarelecidas de meu álbum. Ah como quis de repente estar outra vez debruçado na janela aberta para os jasmins da ruazinha estreita. Como quis de repente aquela crença antiga e aquele cavalo jovem galopando no meu corpo. Como quis os jasmins enquanto abria as portas para cruzar sete passagens tão amedrontado como se não me julgasse feito e consumado e consumido. Não tinha sequer uma memória quando ele começou a despir suas vestes vermelhas.
III
Não sei se alguém mais percebeu. De qualquer maneira, eu estava tão sozinho dentro daquilo que tudo que percebesse seria somente meu. O detalhe. Não aquelas centenas de pessoas nuas correndo pelas plataformas, nem o som estridente das guitarras elétricas, nem o vermelho das paredes ou o metal das cadeiras, a lona do teto, o todo, o tudo. Separei-o cuidadoso e voluntário dos outros. E vi.
A renda escorregou aos poucos revelando um corpo talvez masculino, o sexo oculto por um pequeno retalho preto. A conformação suave dos ombros, uma fragilidade inesperada no plexo liso equilibrado sobre uma bacia de ossos salientes como facas e pernas fortes nascendo e pés de longos dedos magros e pobres com suas unhas rentes, brancas, limpas. Depois escorregou o capuz e desvendou súbito um emaranhado de cabelos crespos civilizados por gestos bruscos que os afastavam para trás libertando uma testa lisa de enormes olhos claros desenhados e um sorriso de mil anos atrás da estrutura mansa de uma boca feita em dentes brancos e língua terna. Não consegui acompanhar seus movimentos descontrolados, até o momento em que comecei a perceber qualquer coisa como um adolescente habitando aquele corpo. Afundei num espanto pesado. E olhei. Durante muito tempo olhei sem ver o que via, com medo do terrível entrincheirado dentro do adolescente nu. Mas não gritei.
Aos poucos, um todo começou a se formar à sua volta. Aos poucos, ele começou a se tornar o centro daquele todo. Aos poucos, ele se desdobrou em faces e formas para cada um dos que o viam. E não eram muitos. Mas desses escolhidos ele escolheria o que ousasse para assassiná-lo pouco a pouco em dentadas estraçalhantes: o sangue jorraria de todas as veias abertas para regar uma semente plantada por seus gestos luzidios como o fio de uma navalha. Equilibrava-se em sua própria lâmina e morria em cada movimento, explodindo escuro e colorido no meio da plataforma. Aceitei.
IV
Depois de muito tempo, percebi que procurava sempre um ponto de onde pudesse ser visto por mim, e percebi que quando a luz violeta batia em seus olhos claros eles estavam fixos em mim, e quando havia luz sobre minha cabeça ele olhava e sorria e triturava palavras incompreensíveis entre os dentes brancos. E quando tudo se aproximava do fim ele assumiu ainda outras formas, como se me convidasse a escolher a que mais me convinha, sem saber que eu aceitaria qualquer forma e qualquer face, sem saber absolutamente nada de mim. Quando tudo terminava, ele morreu e explodiu mais vezes sobre a plataforma roxa à minha frente. Sem sentir, comecei a aplaudi-lo em pé e a sorrir-lhe como se houvesse um pacto entre nós, e a olhá-lo de maneira tão funda e tão oblíqua quanto a que ele me olhava. E de repente estávamos nós dois sozinhos dentro do circo.
Não houve necessidade de palavras. Avancei entre as cadeiras de metal, vencendo corredores vazios, aos poucos caminhando em direção a ele, que me esperava com sua túnica branca sobre o corpo molhado de suor. Estendi os braços em sua direção e depois de algum tempo as pontas de meus dedos tocaram as pontas de seus dedos e descargas elétricas e fluxos e raios e nervos se interpenetraram enlouquecidos até que minhas mãos conseguissem atingir seus ombros e suas mãos atingissem meus ombros e seu peito ficasse colado ao meu e seus cabelos roçassem com força contra meu rosto e seus olhos de imensas pupilas dilatadas se afastassem depois de um tempo que me pareceu interminável e se unissem à voz rouca para dizer alguma coisa que não consegui entender mas que soou como um aviso um perigo não entre não entre no definitivo mas eu não conseguia entender enquanto seus olhos fixos desprendiam raios e sua voz libertava avisos seculares medos de lugares desconhecidos eu já não conseguia voltar atrás havia rompido com todas as mitologias para penetrar num escasso ou amplo espaço de onde não sabia se sairia vivo ou morto ou renovado sentia ao mesmo tempo no contato das mãos e dos raios todos os jasmins das ruazinhas fechadas e fotografias antigas manhãs e a janela aberta mostrando uma brecha entre as nuvens e o sol lavando o outro lado da baía e as caminhadas e os canteiros e toda a chuva afogando sem distinção os becos e as avenidas da cidade onde habitava desamparado e heróico dentro do meu medo e da minha incompreensão eu não queria mas abrira sem sentir a porta de um poço sem fundo e sem volta.
V
Um tempo depois, contou-me histórias sob este mesmo teto claro, seu corpo dúbio preenchendo a ausência onde agora minha mão esquerda grita. Mostrou-me com dedos longos a pequena mancha escura no centro da testa, e sem que dissesse mais nada eu imediatamente soube que vinha dali a sua força. Mas não tive medo. Aos poucos, eu também conseguiria formar essa pequena mancha para que nos transformássemos em profetas do mesmo apocalipse. Disse-me depois — e nesse dia chovia como agora — que vinha de um mundo paralelo, e traçou com dedos cruzados estranhos signos no espaço que separava sua boca da minha. Falou-me de sua revolta e de seu cérebro e dos cérebros de seus compatriotas: feitos de fios e microtransistores programados e ligados e desligados à vontade de um Poder Central Incógnito. Falou-me de seu corpo humano e de sua mente elaborada pacientemente por cientistas altamente especializados. Falou-me das extensas legiões de robôs em seu mundo árido, e de sua marginalidade: revoltara-se contra o Poder e voluntariamente conseguira desprogramar-se para programar-se outra vez segundo sua própria vontade. Teve alguns companheiros segregados a vales e cavernas insuspeitados naquele mundo de vidro. Pretendiam uma revolta para que todos aos poucos conseguissem condições para desprogramar-se, programando-se segundo suas vontades individuais e segundo um mínimo de exigência do grupo, visando à ordem dentro da desordem absoluta e primitivismo consciente e sobretudo amor de mãos dadas. Todos concordavam. Surgiam novos adeptos. Aos poucos conseguiam programar-se segundo as ordens do Poder apenas nas horas de trabalho, para programarem-se segundo eles próprios nas horas de descanso. Essa dupla vida não os deixava mais desligarem-se, e seus corpos humanos ficaram com as peles marcadas por uma profunda palidez, olheiras esverdeadas surgiam sob os olhos de pupilas imensas, suas mãos tremiam e suas bocas ressecadas libertavam palavras lúcidas e cósmicas: apreendiam o universo e transmitiam-no pelos vales a discípulos espantados e ávidos. As iniciações seguiam um ritual ao mesmo tempo requintado e bárbaro:
curtos-circuitos terríveis carbonizavam os fios, os microtransistores explodiam — e em breve formavam uma seita tão vasta que não mais se preocupavam em programar-se segundo o Poder. Na testa de cada um nasceu uma pequena mancha escura: ampliavam-se dia a dia, reproduzindo-se e imprimindo-se nos demais de tal forma que quase não podiam ser distinguidos uns dos outros. Mesmo assim, eram ainda uma minoria. E foram denunciados, sem que soubessem como nem por quem. O Poder Central Incógnito capturou-os um a um: os que ainda não haviam aderido foram programados para dar caça a qualquer membro da seita. Os insurretos escondiam-se pelos vales e cavernas, mas o mundo de vidro revelava-os em sua transparência e aos poucos iam sendo executados em cadeiras elétricas dispostas no meio da praça principal. Três deles, os líderes, haviam evoluído tanto em sua autoprogramação que conseguiram programar-se de acordo com um mundo paralelo ao seu — o nosso — e transportaram-se para cá, dispondo-se em pontos estratégicos sobre a Terra. Não perdera o contato com os outros dois, mas pouco quis falar sobre eles. Disse apenas que mantinham um constante triálogo para poderem cumprir sua missão: colocavam obscuros e misteriosos avisos em teatros, cinemas, bares, metrôs, farmácias, muros. Esperavam aos poucos reunir uma nova seita que pudesse retornar ao mundo de vidro para destruir o Poder.
Disse-me ainda que o primeiro sinal para os escolhidos seria uma pequena mancha escura nascida no meio da testa, idêntica à sua. E que todos os que conseguissem formar essa marca seriam iniciados e teriam seus cérebros libertados para que pudessem se autoprogramar segundo sua própria mitologia e crença. E que de toda essa legião partiriam profetas para todos os lados e, dentro de um tempo impreciso, os que sobrevivessem e fossem suficientemente fortes para aceitar todas as novas mensagens e proposições — esses teriam uma vida total, e poderiam morrer de amor, se quisessem, ou não morrer.
Calou e sorriu. E calando e sorrindo pouco depois de falar em amor, ganhou uma inesperada doçura: suas palavras deixaram de ser frias, e dispôs sinais estranhos sobre minha fronte, e pela última vez penetramos um no outro através dos dedos e dos raios emitidos pelos dedos e a mesma luz roxa se fez novamente e novamente me senti caminhando em direção à sua túnica branca — mas desta vez meu cérebro estava suficientemente livre para que eu não temesse. E mesmo sabendo que aquele poço não tinha fundo nem volta deixei que suas paredes translúcidas envolvessem meus membros e sua cintilante escuridão repleta de pontos fosforescentes penetrasse e perpetrasse em minha carne e em minha mente a semente plantada daquilo que eu não suspeitava e que cresceria escondida em suas folhas verdes até que uma chuva inesperada e terrível afogasse a cidade em suas águas e fizesse essa semente explodir numa manhã sem sol em que com a mão esquerda eu acariciaria a ausência do que me trouxe para esta fronteira e com a mão direita conduziria um cigarro até meus lábios secos sob um teto de madeiras claras e a semente banhada pela chuva tropical explodisse dentro de mim em galhos verdes e pequenas sementes e ramagens e folhas até que dessa árvore nascesse um fruto miúdo e escuro: um miúdo fruto escuro na parte superior da árvore confirmaria minha escolha e minha desgraça.
VI
Percebi que voltava quando meus dedos contraíram-se em contato com a brasa do cigarro. O verde se desfez aos poucos, abandonando o externo para se avolumar dentro de mim. Os ouvidos se abriram novamente para a chuva cessando sobre os telhados de zinco e os olhos divisaram aos poucos as madeiras muito claras do teto. Desdobrei os olhos pelos cantos do quarto, mas os sinais concretos de sua passagem tinham desaparecido. Pensei em procurá-los, mas imediatamente soube da inutilidade da procura, e percebi que ele havia tomado diversas formas para chegar até mim, das mais cotidianas às mais insólitas.
Saí da janela e, enquanto um sol rompia devagar as nuvens do outro lado da baía, curvei-me para o cheiro limpo da terra molhada, o verde renascido de todas as plantas. Então compreendi todos os avisos e os estranhos acontecimentos e os inexplicáveis encontros e desencontros e o processo de seleção e aquelas pessoas pálidas de pupilas enormes encontradas pelas esquinas antes dele, e ele próprio. Observei o que antes chamara de ausência sobre a cama, e percebi que meu corpo ainda humano sentia na carne a falta das descargas elétricas de seus dedos, mas que em meu cérebro estranhos circuitos geravam suas próprias imagens e sua memória e sua mitologia e que eu dispunha de mim como se fosse meu próprio dono e que se meu corpo ainda humano sofria fomes e ausências esse cérebro guardava todas as coisas não mais como um álbum de retratos mas como partes integrantes e integradas de mim mesmo. Não sentia mais sua ausência porque eu também era ausência. Não me sentia sozinho nem desorientado porque sabia que se não era ao mesmo tempo todas as outras pessoas e todas as coisas havia pelo menos alguns que haviam sido também escolhidos e que nos encontraríamos e que talvez já nos tivéssemos encontrado e que nosso caminho a princípio escuro era o mesmo. Soube para sempre que ele não voltaria. E que não tinha me abandonado.
Na frente do espelho, toquei meu tronco nodoso e forte e estendi meus galhos em direção às janelas e a chuva cessou e o sol acabou de romper as nuvens espalhado nítido em raios sobre o verde intenso de meu corpo. Então qualquer coisa como dedos delicados tocou suave e firmemente um pequeno fruto escuro recém-nascido no centro de minha testa. A marca.